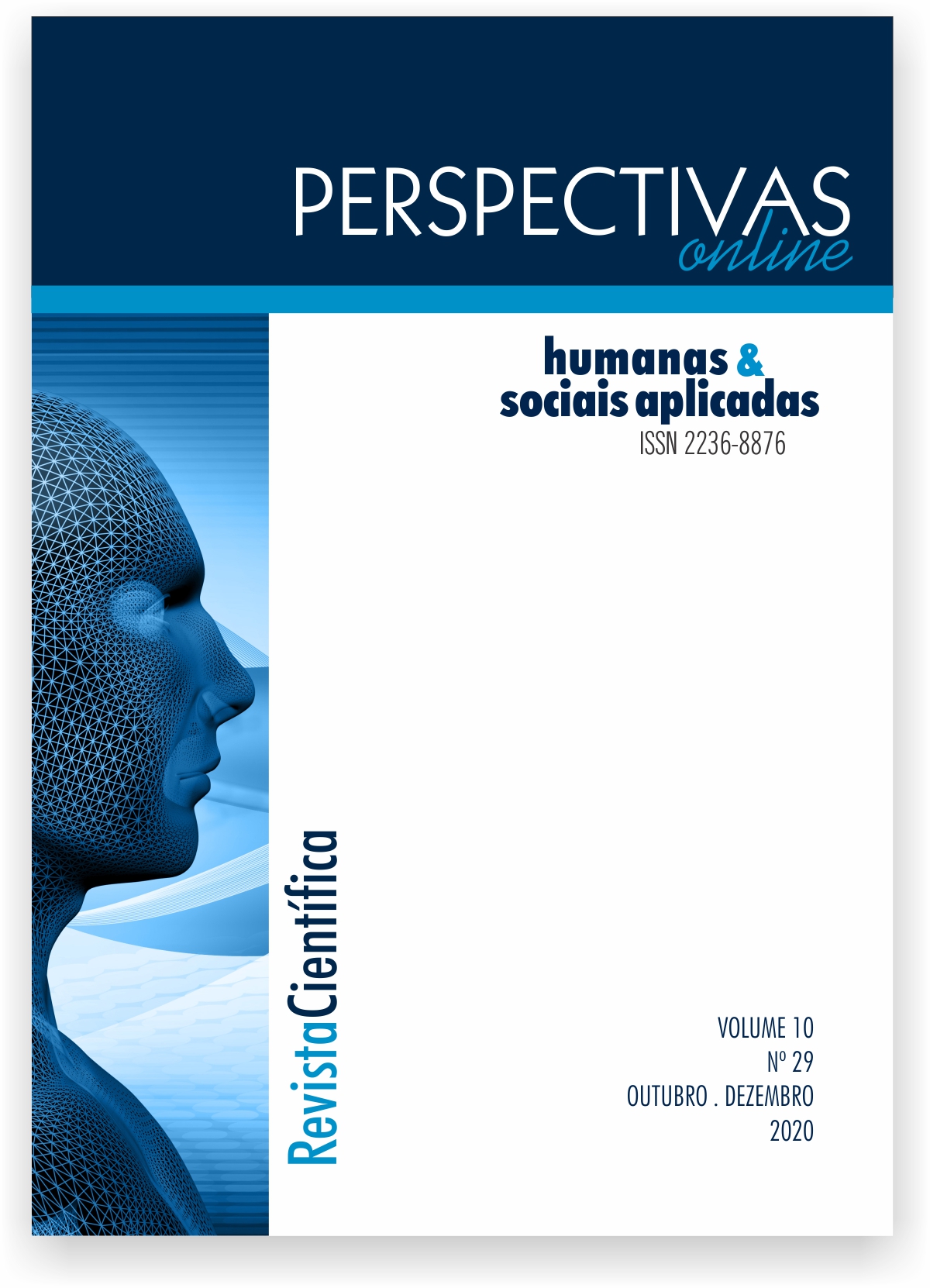Conteúdo do artigo principal
Resumo
Diversos são os tipos de modais utilizados pelas populações do mundo todo. E em pleno século XXI as discussões voltadas para os padrões de mobilidade se tornam cada vez mais recorrentes. Em tempos de análise e críticas referentes ao funcionamento das cidades, com a mobilidade urbana sendo protagonista de diversos discursos voltados à sustentabilidade e eficiência urbanística, os usuários em suas atividades de deslocamentos pelos meios de transporte não motorizados e os coletivos tornam-se importantes agentes transformadores do espaço. Nesse cenário, o uso da bicicleta como meio de transporte compreende uma realidade cada vez mais comum. Em contrapartida ao que importantes urbanistas modernos defendem, a presença de uma infraestrutura urbana voltada para grandes vias de tráfego rápido torna-se empecilho no funcionamento sustentável e eficaz das cidades. Nesse contexto, buscando entender e qualificar a relação existente entre os tipos de modais e seus usuários, o presente artigo apresenta uma breve revisão de literatura acerca da mobilidade urbana e dos sistemas de transporte, além dos resultados de uma pesquisa descritiva realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense campus Campos Centro (IFF), em Campos dos Goytacazes-RJ. Com um enfoque na questão da utilização (ou não) da bicicleta, foi feita uma análise a partir dos resultados obtidos tendo como instrumento metodológico a aplicação de questionários on-line e in loco, que evidenciou a carência de infraestrutura adequada para atender as demandas do transporte ativo.
Diversos são os tipos de modais utilizados pelas populações do mundo todo. E em pleno século XXI as discussões voltadas para os padrões de mobilidade se tornam cada vez mais recorrentes. Em tempos de análise e críticas referentes ao funcionamento das cidades, com a mobilidade urbana sendo protagonista de diversos discursos voltados à sustentabilidade e eficiência urbanística, os usuários em suas atividades de deslocamentos pelos meios de transporte não motorizados e os coletivos tornam-se importantes agentes transformadores do espaço. Nesse cenário, o uso da bicicleta como meio de transporte compreende uma realidade cada vez mais comum. Em contrapartida ao que importantes urbanistas modernos defendem, a presença de uma infraestrutura urbana voltada para grandes vias de tráfego rápido torna-se empecilho no funcionamento sustentável e eficaz das cidades. Nesse contexto, buscando entender e qualificar a relação existente entre os tipos de modais e seus usuários, o presente artigo apresenta uma breve revisão de literatura acerca da mobilidade urbana e dos sistemas de transporte, além dos resultados de uma pesquisa descritiva realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense campus Campos Centro (IFF), em Campos dos Goytacazes-RJ. Com um enfoque na questão da utilização (ou não) da bicicleta, foi feita uma análise a partir dos resultados obtidos tendo como instrumento metodológico a aplicação de questionários on-line e in loco, que evidenciou a carência de infraestrutura adequada para atender as demandas do transporte ativo.
Palavras-chave
Detalhes do artigo
Os artigos submetidos a Revista Perspectivas Online: Humanas e Sociais Aplicadas estão licenciados conforme CC BY. Para mais informações sobre essa forma de licenciamento, consulte: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
A disponibilização é gratuita na Internet, para que os usuários possam ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral dos documentos, processá-los para indexação, utilizá-los como dados de entrada de programas para softwares, ou usá-los para qualquer outro propósito legal, sem barreira financeira, legal ou técnica.
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão para publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.
Referências
- ALMEIDA, Fátima Pereira Gomes. Mobilidade Urbana e transporte cicloviário: rota cicloviária, uma alternativa de espaço urbano mais igualitário. Dissertação de mestrado, UCAM. Rio de Janeiro, 2009.
- ANTP (2017). Mobilidade humana para um Brasil urbano. Associação Nacional de Transportes Públicos. Disponível em: <http://files.antp.org.br/2017/7/12/antp-mobilidade-humana-11-07-2017--baixa.pdf> Acesso em: 5 de março de 2019.
- ANTP (2011). Relatório do Sistema de Informação da Mobilidade. São Paulo.
- BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. 3º ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo. 1988. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/Constituiode1988.pdf> Acesso em: 26 de fevereiro de 2019.
- ______. Lei 12.587. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, DF, 3 de jan. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm>. Acesso em: 08 de março de 2019.
- CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Planejamento de transportes: conceitos e modelos. - 1 ed. - Rio de Janeiro: Interciência, 2013.
- CARVALHO, Jefferson da Silva, & DA COSTA, Aline Couto. 2019. Caminhabilidade e acessibilidade para a população idosa: uma análise em Campos dos Goytacazes-RJ. Humanas & Sociais Aplicadas, 9(24). https://doi.org/10.25242/887692420191722.
- CICLOCIDADE. “Pesquisa perfil do ciclista: Relatório completo”, 2016. Disponível em: <http://www.ciclocidade.org.br/noticias/809-pesquisa-perfil-de-quem-usa-bicicleta-na-cidade-desao-paulo-relatorio-completo>. Acesso em: 02 de janeiro de 2019.
- DE MELO, Tatiane Teixeira, & ARAÚJO, Ronaldo de Souza. 2014. Processo urbano e ocupação espontânea: Campos dos Goytacazes. Humanas & Sociais Aplicadas, 4(9). https://doi.org/10.25242/8876492014537.
- DENATRAN. Manual de Procedimentos para Tratamentos de Pólos Geradores de Tráfego. Departamento Nacional de Trânsito, Brasília, DF, 2001.
- FABIANO, Maria Lucia Alves. A mobilidade urbana e o papel da bicicleta como indutor de inclusão social e de transformação da cidade. 2016. Disponível em: < https://www.mackenzie.br/fileadmin/OLD/62/ARQUIVOS/PUBLIC/SITES/PORTAL/IV_COLOQUIO_BRASIL-PORTUGAL/25.pdf >. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019.
- FREITAS, Kêila Pirovani da Silva. Produção e apropriação do espaço urbano de Campos dos Goytacazes-RJ: da residência unifamiliar aos edifícios de apartamentos. Dissertação de mestrado, UENF. Campos dos Goytacazes, 2011.
- GEHL, Jan. Cidades para pessoas. - 3 ed. - São Paulo: Perspectiva, 2015.
- HARKOT, Marina Kohler. A bicicleta e as mulheres. Dissertação de mestrado. FAUSP, São Paulo, 2018a.
- HARKOT, Marina Kohler. Como as mulheres de São Paulo usam a cidade? Uma análise a partir da mobilidade por bicicleta. 2018b. Disponível em: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq23.2018.05>. Acesso em: 02 de dezembro de 2019.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/campos-dos-goytacazes.html?>. Acesso em: 09 de março de 2019.
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 – Campos dos Goytacazes, RJ: Essentia Editora, 2011. p.343.
- JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. – 3 ed. – São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2011.
- KAUARK, Fabiana da S., MANHÃES, Fernando C., MEDEIROS, Carlos H.. Metodologia da pesquisa: um guia prático – Itabuna: Editora Via Litterarum, 2010. 88p.
- MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanMob Construindo a cidade sustentável. Caderno 1, Caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007.
- ______. PlanMob. Caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2015.
- MOURA, Mariana Verônica de. Estudo dos impactos causados pelos polos geradores de viagens na circulação de pedestres. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília. BrasÌlia, 2010.
- SILVA, Ricardo Corrêa da. A bicicleta no planejamento urbano. Situação e perspectivas da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade (no Brasil e em São Paulo). Dissertação de mestrado, FAUUSP, São Paulo, 2014.
- SILVA, Mário Sérgio Silva da. O uso de bicicletas como modal para a mobilidade urbana no município de Castanhal, estado do Pará. 2017. Disponível em: <https://riuni.unisul.br/handle/12345/2386 >. Acesso em: 02 de fevereiro de 2019.
- traffiQ et al. Integração e alianças de transporte público. Transportes Sustentáveis - Um Guia para Gestores de Cidades em Desenvolvimento. Vol. 3e. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018.
- VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Editora Prolivros, 2005.
- VILLAÇA. Flávio. O espaço intra-urbano. São Paulo: Studio Nobel, 2001.
Referências
ALMEIDA, Fátima Pereira Gomes. Mobilidade Urbana e transporte cicloviário: rota cicloviária, uma alternativa de espaço urbano mais igualitário. Dissertação de mestrado, UCAM. Rio de Janeiro, 2009.
ANTP (2017). Mobilidade humana para um Brasil urbano. Associação Nacional de Transportes Públicos. Disponível em: <http://files.antp.org.br/2017/7/12/antp-mobilidade-humana-11-07-2017--baixa.pdf> Acesso em: 5 de março de 2019.
ANTP (2011). Relatório do Sistema de Informação da Mobilidade. São Paulo.
BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. 3º ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo. 1988. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/Constituiode1988.pdf> Acesso em: 26 de fevereiro de 2019.
______. Lei 12.587. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, DF, 3 de jan. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm>. Acesso em: 08 de março de 2019.
CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Planejamento de transportes: conceitos e modelos. - 1 ed. - Rio de Janeiro: Interciência, 2013.
CARVALHO, Jefferson da Silva, & DA COSTA, Aline Couto. 2019. Caminhabilidade e acessibilidade para a população idosa: uma análise em Campos dos Goytacazes-RJ. Humanas & Sociais Aplicadas, 9(24). https://doi.org/10.25242/887692420191722.
CICLOCIDADE. “Pesquisa perfil do ciclista: Relatório completo”, 2016. Disponível em: <http://www.ciclocidade.org.br/noticias/809-pesquisa-perfil-de-quem-usa-bicicleta-na-cidade-desao-paulo-relatorio-completo>. Acesso em: 02 de janeiro de 2019.
DE MELO, Tatiane Teixeira, & ARAÚJO, Ronaldo de Souza. 2014. Processo urbano e ocupação espontânea: Campos dos Goytacazes. Humanas & Sociais Aplicadas, 4(9). https://doi.org/10.25242/8876492014537.
DENATRAN. Manual de Procedimentos para Tratamentos de Pólos Geradores de Tráfego. Departamento Nacional de Trânsito, Brasília, DF, 2001.
FABIANO, Maria Lucia Alves. A mobilidade urbana e o papel da bicicleta como indutor de inclusão social e de transformação da cidade. 2016. Disponível em: < https://www.mackenzie.br/fileadmin/OLD/62/ARQUIVOS/PUBLIC/SITES/PORTAL/IV_COLOQUIO_BRASIL-PORTUGAL/25.pdf >. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019.
FREITAS, Kêila Pirovani da Silva. Produção e apropriação do espaço urbano de Campos dos Goytacazes-RJ: da residência unifamiliar aos edifícios de apartamentos. Dissertação de mestrado, UENF. Campos dos Goytacazes, 2011.
GEHL, Jan. Cidades para pessoas. - 3 ed. - São Paulo: Perspectiva, 2015.
HARKOT, Marina Kohler. A bicicleta e as mulheres. Dissertação de mestrado. FAUSP, São Paulo, 2018a.
HARKOT, Marina Kohler. Como as mulheres de São Paulo usam a cidade? Uma análise a partir da mobilidade por bicicleta. 2018b. Disponível em: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq23.2018.05>. Acesso em: 02 de dezembro de 2019.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/campos-dos-goytacazes.html?>. Acesso em: 09 de março de 2019.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 – Campos dos Goytacazes, RJ: Essentia Editora, 2011. p.343.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. – 3 ed. – São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2011.
KAUARK, Fabiana da S., MANHÃES, Fernando C., MEDEIROS, Carlos H.. Metodologia da pesquisa: um guia prático – Itabuna: Editora Via Litterarum, 2010. 88p.
MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanMob Construindo a cidade sustentável. Caderno 1, Caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007.
______. PlanMob. Caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2015.
MOURA, Mariana Verônica de. Estudo dos impactos causados pelos polos geradores de viagens na circulação de pedestres. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília. BrasÌlia, 2010.
SILVA, Ricardo Corrêa da. A bicicleta no planejamento urbano. Situação e perspectivas da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade (no Brasil e em São Paulo). Dissertação de mestrado, FAUUSP, São Paulo, 2014.
SILVA, Mário Sérgio Silva da. O uso de bicicletas como modal para a mobilidade urbana no município de Castanhal, estado do Pará. 2017. Disponível em: <https://riuni.unisul.br/handle/12345/2386 >. Acesso em: 02 de fevereiro de 2019.
traffiQ et al. Integração e alianças de transporte público. Transportes Sustentáveis - Um Guia para Gestores de Cidades em Desenvolvimento. Vol. 3e. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018.
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Editora Prolivros, 2005.
VILLAÇA. Flávio. O espaço intra-urbano. São Paulo: Studio Nobel, 2001.